A metáfora do Natal
Há muitas ponderações sobre o que é singular no ser humano. Racionalidade, criatividade, política e afetividade estão entre as mais recorrentes. O que as une, essencialmente, é sua dimensão simbólica. Qualquer que seja o eleito para qualificar o ser humano, sempre se passa pelo aspecto simbólico. Somos o que somos basicamente por conta de nossa capacidade (e necessidade mesmo) de representar simbolicamente nossa experiência.
No fundo, acabamos por inventar a realidade na medida em que nossas representações são mais que meras relações de signo, significados e significantes. A cada novo olhar, criamos mundos novos em nosso entorno. A imaginação e as representações simbólicas dela são formas ancestrais de estar nesse mundo.
As religiões (ou antes a espiritualidade humana) são a realização mais antiga dessa dimensão simbólica no ser e nas sociedades humanas. A religião é um jeito próprio de habitar nosso mundo. Por meio dela, atribuímos significados, explicamos desafios e ocupamos o espaço e o tempo com sentido e relevância.
Foi assim que o homem nas cavernas fez para enfrentar as chuvas, terremotos e condições extremas no clima, na natureza e na própria psique. Incapaz de compreender e de reverter a impetuosidade da natureza, inventamos deuses e forças superiores que fossem capazes de, ao menos, nos acomodar em nossa pequenez.
E assim ocorreu sempre na história das religiões. Por mais sofisticadas e mais bem elaboradas que fossem, as religiões sempre procuraram atender a esse anseio originário: aquietar o coração humano ante as ameaças infinitamente mais poderosas que nossas faculdades.
Da mesma forma que, pela cultura, modificamos a natureza para atender nossas necessidades, inventamos ideias fantásticas para devolver ao espírito humano uma sensação de estar em casa. Assim como uma enxada que funciona como extensão do corpo para potencializá-lo, um mito religioso é uma extensão da mente para atender a uma demanda existencial.
Símbolo é mais do que aquilo que representa algo. Símbolo é o que aponta caminhos; indica direções; sinaliza o rumo a seguir.
Etimologicamente, símbolo é o que é lançado conjunta e unidamente. Um elo entre o aparentemente distinto. Símbolo é o elemento capaz de fazer ligação entre diferentes. Por outro lado, símbolo é o que aponta para algo além de si. A maior tarefa do símbolo é despojar-se de si e indicar o caminho para aquilo que está sinalizando.
Quando, por exemplo, se toma o rumo para uma cidade e, para isso, se usa de uma estrada, as placas pelo caminho são símbolos que antecipam o destino, embora não o substituam. Em outras palavras, quem para ao lado de uma placa no caminho jamais chega ao destino almejado. As religiões são, em última análise, símbolos que apontam para além de si. Indicam o caminho que acreditam levar à comunhão com Deus.
A exemplo de quem interrompe a viagem quando encontra a placa que sinaliza para o destino, equivoca-se quem confunde religião com a divindade. Erra quem para no credo e deixa de continuar a caminhada rumo àquilo que está indicado ao fim da jornada.
A despeito disso, todavia, os símbolos religiosos são potentemente poéticos. Sinalizam de modo inesperado e surpreendente. De onde menos se espera, o símbolo une o improvável. Isso os torna capazes de dizer continuamente. E, além disso, de se adaptarem a qualquer tempo e lugar.
O cristianismo não é exceção à regra. Aliás, nem sequer é possível falar de cristianismo como se fosse algo autônomo e independente de outras famílias e tradições religiosas. Na verdade, as religiões todas se interconectam e se alimentam mutuamente. O cristianismo é herdeiro do judaísmo e das religiões persas, que por sua vez beberam em fontes ancestrais das mais diferentes e difusas tradições religiosas, algumas inclusive sem a larga documentação escrita que há nas religiões mais recentes.
Os mitos judaicos e cristãos são parte desse imenso repertório simbólico da humanidade. Um rico acervo de memórias e arquétipos milenares que funcionaram (e ainda funcionam) como corrimão na larga escada que se sobe e desce na vida e na história. Histórias sobre as origens, assassinatos, confusões sociais, relações de parentesco, dramas existenciais, criação de filhos, a polaridade bem e mal, as questões sobre justiça e uma infinidade de outros temas relevantes estão lá nas histórias bíblicas como estão também na mitologia grega, nos textos vedas, nos ensinamentos budistas e no imenso oceano de religiões africanas, pré-colombianas e asiáticas.
As histórias sobre o Natal são, em certo sentido, uma gota a mais nessa imensidão. Mas sua potência é inquietadora. As metáforas de um Deus feito gente e da assunção do ser humano como o palco da revelação plena da divindade são figuras simbólicas que parecem transcender.
Conhecemos muito pouco sobre a história de Jesus. Chegaram até nós quatro evangelhos canônicos e algumas dezenas de evangelhos ou fragmentos de histórias não-canônicos que narram, cada um ao seu modo e com suas inclinações, traços e aspectos da biografia, vida e personalidade do Cristo.
Nem todos têm narrativas sobre o nascimento e infância de Jesus, mas todos contam a história sob o ponto de vista da fé. Ou seja, quem quer que tenha sido o escritor sobre a vida dele, esse alguém narrou os acontecimentos que sua memória selecionou, com o propósito explícito de anunciar sua convicção em Jesus como o Messias esperado por Israel, para salvar o povo de sua opressão e conduzi-lo a uma experiência nova de libertação integral.
Essa ideia religiosa não era novidade no tempo de Jesus. Há muito já se alimentava no povo da Bíblia uma ânsia fervorosa pelo nascimento daquele que haveria de salvar a nação. O Ungido (messias, em hebraico; cristo, em grego) seria uma espécie de agregador das esperanças históricas, políticas, sociais e, acima de tudo, escatológicas de Israel. Ou seja, um ser que fizesse convergir em si todas as mais profundas expectativas salvíficas de um povo inteiro.
Muitos surgiram com essa marca e com algum tipo de promessa de realização disso tudo. Os séculos antes e depois da era cristã foram marcados pelo aparecimento recorrente desse tipo de personagem: o messias.
Quando os evangelistas Mateus e Lucas (os únicos entre os evangelhos oficiais a se debruçarem sobre tais narrativas) passam a escrever sobre os antecedentes ao nascimento de Jesus e os episódios diretamente ligados ao natal (Mt 1 e 2, Lc 1 e 2), o fazem menos sob a ótica da História e mais sob o enfoque da Fé e da Teologia.
Os especialistas em Exegese têm revelado um dado interessante: os Evangelhos foram escritos “de trás para frente”, ou seja, as primeiras histórias narradas têm a ver com a morte e ressurreição de Jesus e, depois desse núcleo germinal donde brotam a fé e a Igreja, surgiram as narrativas sobre a vida (sermões, histórias, milagres etc) e, por fim, do nascimento e “infância” de Jesus. As primeiras histórias nasceram por último e funcionam como um preâmbulo sobre o fim. Qual introdução que é escrita depois de todo o texto pronto, os evangelhos da infância funcionam como abertura, já antecipando o fim e o sentido de tudo.
Quem lê essas histórias deve ter ciência que está diante de Teologia e não de História; ou seja, que não será nunca possível reconstruir a história com base nessas narrativas, mas simplesmente captar a maneira pela qual os primeiros cristãos interpretavam a vida sob a presença de Jesus.
Embora muito se tenha escrito (e ainda se faça) sobre o Jesus da História, pouco sabemos sobre ele; o muito que temos é sobre o Cristo da Fé, um Jesus transfigurado pela Fé de muitas e muitas comunidades de judeus e estrangeiros que perceberam naqueles acontecimentos a mão libertadora de Deus na História.
Apenas para ilustrar, vale refletir sobre a concepção virginal de Jesus. Uma cristologia levada às últimas consequências deveria insistir sempre na humanidade de Jesus, como sempre revelou sua caminhada peregrina pela Palestina; mas nas narrativas da infância há um acento especial na paternidade divina e na maternidade humana, coroados por uma concepção virginal.
John Dominic Crossan, no livro God and Empire: Jesus Against Rome, Then and Now (2007), diz que: "há um ser humano do primeiro século, que foi chamado de Divino, Filho de Deus, Deus e Deus dos deuses, e cujos títulos foram Senhor, Redentor, Libertador e Salvador do Mundo. Os cristãos provavelmente irão pensar que esses títulos foram originalmente criados e aplicados exclusivamente a Cristo. Mas antes de Jesus ter existido, todos esses termos pertenciam a César Augusto".
Crossan entende que a adoção dessa terminologia pelos primeiros cristãos era uma forma de negá-los a César Augusto. Assim, eles tiravam a identidade do imperador e davam-na a um camponês, da periferia da sociedade.
Não era César, nascido de uma cesariana para preservar sua imaculada concepção, o esperado pela História; era o Menino choramingando no estábulo o verdadeiro Messias ansiado pelo Cosmo!
Eis aqui a beleza da Teologia, que nasce da Fé e a ela retorna para iluminá-la: fazer ver a História por seu avesso, onde os Césares são destronados pela sutileza das palavras e pela ironia da fé.
Por isso cantou Maria, mulher-encontro de Deus com o mundo: “depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes; aos famintos encheu de bens e vazios, despediu os ricos”!
O Natal é a celebração da inteligência da fé humana que soube converter o mau cheiro da estrebaria de Belém em alimento para enfrentar as agruras da História e acreditar na esperança como a palavra definitiva. Sempre há esperança!
Outro exemplo precioso é o dos magos visitantes do menino de Belém. O texto do Evangelho diz que “e, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo.” (Mt 2,1-2). Mais adiante, o texto narra a chegada deles à casa onde estavam Maria e a criança e os presentes dados ao menino: ouro, incenso e mirra.
A tradição já disse que se tratavam de reis; que eram três e que se chamavam Belchior, Balthazar e Gaspar. Tudo bem além do que o texto indica como somente magos do Oriente.
E aqui repousa a primeira e mais interessante tarefa dos símbolos: dizem pouco porque precisam dizer sempre e profundamente. Qual folha em branco pronta a receber a mão do artista, os símbolos indicam sem fechar e restringir. Apontam a direção, mas facultam os caminhos. Dão o rumo, mas não se preocupam muito com as trilhas a serem pisadas.
Curioso é que, apesar disso, as religiões institucionalizadas insistem na cristalização dos símbolos e não percebem que, com isso, esvaziam-nos da riqueza que os forjou originalmente.
Ler o texto da visita dos magos é menos importante do que visualizar e, de alguma forma, vivenciar a cena sempre de novo. Talvez a sacralidade do texto esteja na contínua possibilidade de reinterpretação dele.
É surpreendente que magos, gente de outra fé, estranha e questionada pelos judeus do primeiro século, sejam os visitantes do presépio. Estranha que representantes de outras crenças estejam desde o berço ao lado do Menino. Impressiona como a religião derivada daquela cena primordial seja tão intolerante, especialmente com a fé alheia.
Talvez seja esse o maior presente dos magos: clamor pelo respeito. Mais do que tolerância - afinal, tolera-se a quem se julga equivocado - os magos trouxeram reconhecimento que Deus é bem maior do que possamos compreender. A estrela que os guiou permanece acesa e pronta a indicar o caminho a seguir. A questão é que se julga já saber aonde ir e, pior, já se sabe ter chegado lá.
Muita gente ainda discute a historicidade dos textos da natividade. A questão é que, para dizer algo realmente novo todos os dias, há que transcender a história. Afinal nada muda tanto quanto o passado.
Independente disso, porém, permanece a fé na potência dos símbolos.
No Natal, a lógica religiosa vira de ponta cabeça. O Natal é a metáfora do Deus encarnado. “A aceitação da encarnação divina enquanto ideia metafórica (...) Vemos em Jesus um ser humano extraordinariamente aberto à influência de Deus e que, portanto, viveu em uma medida extraordinária como agente de Deus na terra, ‘encarnando’ o propósito divino para a vida humana. Assim, ele corporificou, nas circunstâncias de sua época e lugar, o ideal da humanidade que vive em abertura e em atitude de resposta a Deus, e ao fazê-lo ele ‘encarnou’ um amor que reflete o amor divino” (John Hick. A metáfora do Deus encarnado. p.25-26)
O Natal é uma das mais bem sucedidas invenções humanas. Não apenas criamos um Deus, como tantos fizeram ao longo do tempo. Tornamo-lo rico em amor ao ponto de deixar a transcendência e assumir a humanidade radicalmente. O verbo se faz carne. Deus assumiu a condição humana na sua mais absurda finitude e fraqueza. Tornou-se ele próprio uma vítima da injusta e violenta história humana. As ameaças que nossos primeiros ancestrais experimentavam nas cavernas foram enfrentadas pelo próprio Deus. Não apenas enfrentadas, mas foram capazes de levá-lo à morte.
É isso: no Natal, Deus assume - até às últimas consequências - a humanidade. E talvez seja essa a nossa grande resposta. Deus escolheu ser um de nós.
O Portal Multiplix não endossa, aprova ou reprova as opiniões e posições expressadas nas colunas. Os textos publicados são de exclusiva responsabilidade de seus autores independentes.

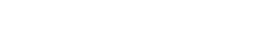


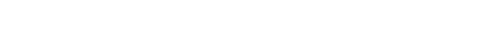


.jpg)